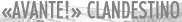Sinfonia N.º 1
“Em 1835 é chamado a assumir a direcção do Conservatório de Música, em Lisboa, criado nessa mesma altura de acordo com o modelo laico do Conservatóriode Paris”
No domínio da música erudita (comummente, mas, a meu ver, incorrectamente referida como «música clássica»), e em particular na vertente da execução/fruição das obras que integram esse género de música, deparamos com um hábito algo desconcertante que se fosse aplicado a outros espaços artísticos, seria olhado como prática intolerável ou exotismo inaceitável. Estou a pensar naquilo que julgo poder designar por execução amputada, ou fruição amputada, conforme estejamos a aludir ao acto de interpretar (emissor) ou ao de escutar, sendo este protagonizado pelo receptor. No grande reportório da música erudita que preenche os programas das salas de concertos, das menos às mais conceituadas, é banal encontrarem-se pedaços de obras, se assim me posso expressar; ou seja, o que é executado pelos músicos intérpretes em palco não é a obra completa, tal como foi composta pelo seu autor, mas sim e tão só uma parte dela.
É como se realizássemos uma exposição de artes plásticas onde só se mostravam pormenores dos quadros ou das esculturas e não a sua totalidade. Ou como se, por hábito, em vez de lermos Os Maias ou Guerra e Paz lêssemos apenas um dos seus capítulos, relegando para circunstâncias de excepção a leitura integral do romance. Ou ainda, se ao irmos a uma sessão de cinema, aceitássemos com naturalidade, por já fazer parte dos nossos costumes, poder assistir apenas a uma pequena parte do filme. No entanto, é exactamente isso que acontece, e com muita frequência, nos concertos. O caso vertente, disso é claro exemplo, uma vez que no espectáculo inaugural da 37.ª Festa do Avante iremos escutar apenas um andamento, portanto uma parte, de cada uma das duas primeiras obras constantes do programa:
a 1.ª Sinfonia de Bomtempo e o 5.º Concerto de Beethoven.
Bomtempo foi contemporâneo de Beethoven, sendo apenas cinco anos mais novo do que o compositor alemão, no entanto isso não fez dele um músico inovador e muito menos um criador artisticamente revolucionário. Bem pelo contrário. Disso é prova esta sua primeira Sinfonia composta no final do longo período (cerca de dez anos) em que viveu em Paris. Se pensarmos que a Heróica, essa «alvorada do Romantismo», foi estreada em 1804 e que a partitura do músico português foi executada na capital francesa (centro do mundo artístico) seis anos depois, não será difícil reconhecer o conservadorismo estético do nosso músico.
A diferença é abissal – e estou a falar tão só de modernidade formal, independentemente de juízos de valor. Na era da Internet, qualquer interessado pode facilmente realizar um exercício de comparação artística recorrendo ao YouTube, convite que aqui deixo. A partitura obedece à tradicional forma clássica, e se a quiséssemos situar na linha evolutiva da criação sinfónica, considerando o tipo de escrita musical, tenderíamos a colocá-la atrás de Mozart e até de Haydn. Também não se vislumbram características ou elementos melódicos tipicamente portugueses. Sendo peça de autor português, não é, no entanto, música que exprima uma ambiência nacional. Nada disso obstou a que tivesse sido «acolhida com encómios pela crítica» parisiense, no ano de 1810.
Esta primeira Sinfonia constitui um marco na história da nossa produção musical, uma vez que rompendo com uma empobrecedora tradição de desinteresse pelas formas sinfónicas Bomtempo foi o primeiro sinfonista português.
Depois do apetite musical aberto pelo concerto da Festa, suponho provável haver quem deseje escutar a Sinfonia na sua totalidade (duração de cerca de 25 minutos), com os seus quatro andamentos. Deixo aqui a indicação de que existe um novo e estupendo registo discográfico da obra: edição NAXOS, direcção musical de Álvaro Cassuto (o CD inclui também a 2.ª Sinfonia).
Filho de Francesco Saverio Buontempo, um oboísta italiano que veio trabalhar para a corte portuguesa no reinado de D. José, João Domingos nasceu em Lisboa a 28 de Dezembro de 1771. Seu pai, músico da Real Câmara, foi o seu primeiro professor, ensinando-lhe contraponto e oboé. Depois, estudou no Seminário Patriarcal e na Irmandade de Santa Cecília onde foi admitido, como «cantor da Bemposta», quando tinha apenas 13 anos. A arte dos sons esteve, portanto, desde sempre presente, determinando o seu futuro profissional.
O pai Francesco (com o equivalente nome português de Francisco Xavier) foi para o Brasil, acabando por falecer nessas distantes terras do Império português. Esse facto impôs a Bomtempo a responsabilidade de acautelar o sustento dos seus familiares mais próximos, sua mãe e suas irmãs. Ocupou então, com vinte anos de idade, o lugar que pertencera ao pai na Real Câmara. Porém, em 1801 toma a inesperada decisão de rumar a Paris com a finalidade de desenvolver aí uma carreira artística, principalmente como pianista talentoso. Foi aí acolhido pelo grupo de emigrados liberais reunidos em torno do poeta neoclássico, e também tradutor, Filinto Elísio (pseudónimo literário atribuído pela Marquesa de Alorna a Francisco Manuel do Nascimento). Este intenso convívio com os liberais no coração da cidade luz, assim como o directo contacto com gente imbuída do espírito que emanava das novas correntes filosóficas racionalistas avivou ainda mais o seu progressismo político. Curioso será notar que embora, na sua qualidade de compositor, tivesse sido criador de uma música pouco moderna para uma época em que havia já quem estivesse a construir exuberantemente a transição do clássico para o romântico (Beethoven), no plano ideológico Bomtempo foi um cidadão progressista, defensor dos ideais da modernidade, facto que, como veremos, em muito marcou a sua vida.
Foi em Paris que conheceu os seus primeiros grandes sucessos artísticos. Primeiro como pianista — mesmo no exigente meio cultural da cidade luz não tardou a conseguir «fazer apreciar os seus talentos de pianista» —, depois como compositor. Tocou na Salle Olympique num concerto em que o maestro era Kreutzer, facto que atesta o seu talento. Recorde-se que na abalizada opinião de Tomás Borba, Lopes-Graça e outros ele foi o «mais ilustre representante da arte pianística em Portugal antes de Viana da Mota». As suas primeiras obras são dedicadas ao instrumento predilecto: o piano (que continuará a estar quase sempre presente nas suas partituras); o opus 1 é a Grande sonata para piano e o opus 2 o 1.º Concerto para piano e orquestra. Obras em que os musicólogos não têm tido dificuldade em detectar uma forte e directa influência do estilo de Clementi, nessa altura a viver na capital francesa e gozando já de fama internacional, não só como compositor, senão que também como pianista de grande gabarito. Convive com o célebre músico com quem se voltará a encontrar em Londres.
Em 1810, quando tinha consolidado o seu prestígio em França, vê-se afectado pelo ambiente adverso gerado pelo conflito bélico entre as tropas de Napoleão e as luso-inglesas que defendiam a integridade do território do seu país, ao qual nunca deixou de estar profundamente ligado. As sucessivas derrotas do exército francês diante dos valentes lusitanos não facilitavam a vida de um português em Paris. Essa circunstância terá estado na base da sua decisão de ir viver para Londres no mesmíssimo ano (1810) em que tinha obtido significativos louvores da crítica musical parisiense.
Em Londres, à semelhança do que acontecera em França, volta a ser bem acolhido pela comunidade de emigrantes portugueses bem como pela sociedade londrina. A amizade e o contacto com Clementi, romano de nacionalidade inglesa, intensificam-se a partir dessa altura e é na editora dirigida por esse seu célebre amigo músico, que influenciou Beethoven, que Bomtempo acabará por publicar boa parte da sua obra.
Em Londres, torna-se professor de um dos filhos de Lady Hamilton, que mostra ter admiração por ele.
No conjunto da produção composicional de João Domingos Bomtempo há uma obra que se destaca e que adquiriu a partir do final do século passado uma rara notoriedade internacional. Refiro-me ao Requiem à memória de Camões, composto durante um menos feliz exílio em Paris, em 1819/20. Importa fazer notar que parte significativa da obra de Bomtempo permanece desconhecida, sendo por isso difícil proferir um juízo valorativo global.
As mudanças políticas no País foram causando sucessivas saídas e regressos à pátria. O desconforto vivido em Lisboa por volta de 1816/17 fê-lo exilar-se em Paris, principalmente após o enforcamento do general Gomes Freire de Andrade no Forte de S. Julião da Barra. Mas com o triunfo da revolução liberal, em 1820, decide regressar à pátria, onde se torna músico oficial do regime, apadrinhado pelo governo constitucional. A Vila-Francada miguelista e o triunfo da contra-revolução voltam a deixá-lo em má situação. Quando em 1928 as cortes são dissolvidas por D.Miguel inicia-se o período mais difícil da vida do músico. No clima de tirania instalado, disse-se ter sido obrigado a refugiar-se no consulado da Rússia, onde supostamente terá vivido durante vários anos até à entrada de D.Pedro na capital. Mas este facto não está comprovado, embora se saiba ter corrido o risco de ser preso em 1827. O regresso dos liberais ao poder vai proporcionar que ele assuma destacado protagonismo na área do ensino. Em circunstâncias ainda não clarificadas, terá sido nomeado nesse mesmo ano de 1833, ou no ano seguinte, professor de música de D.Maria II. Em 1835 é chamado a assumir a direcção do Conservatório de Música, em Lisboa, criado nessa mesma altura de acordo com o modelo laico do Conservatório de Paris. Com a importantíssima reforma do teatro nacional realizada por Almeida Garrett e Silva Passos é fundado o Conservatório Geral de Arte Dramática que passa a integrar o anterior Conservatório (apenas destinado à formação musical). Bomtempo é mantido como director dessa escola de música, tendo sido, ao que tudo indica, um importante aconselhador de Garrett na acção organizativa. Decisivo, também, o seu papel na criação da Sociedade Filarmónica, inspirada na Philharmonic Society a que pertencera quando vivia em Londres. Assume-se assim como um dos mais destacados reformadores da cultura portuguesa.
Manteve-se no cargo de director do Conservatório de Música até o final da vida. Morreu, ao que se julga, em consequência de um ataque de bexigas, no dia 18 de Agosto de 1842.
Na cultura portuguesa, quando surge uma figura notável acontece com demasiada frequência não aparecerem continuadores com equivalente grandeza, pessoas das gerações seguintes que peguem no testemunho e prossigam a caminhada do enriquecimento cultural. Somos uma Nação de intermitências: a uma manifestação pontual de alta cultura não se segue uma tradição de alta cultura. João Domingos Bomtempo não foge à regra ao não ter deixado sucessores do seu calibre. Uma das causas do deserto musical que foi o nosso século XIX.