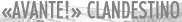Uma reserva para a luta
A «onda grevista» tornou-se numa referência incontornável na paisagem política dos EUA. O número e a intensidade das greves atingiram, nos últimos anos, píncaros que não eram escalados há décadas. São os 50 mil operários da General Motors que, na sexta-feira, terminaram uma greve de 40 dias em 34 fábricas e sete estados; são os 26 mil professores de Chicago, que cumprem hoje 11 dias de greve; são os 13 mil trabalhadores da recém-privatizada empresa de transporte de passageiros Cinder Bed Road Metrobus, em Washington DC, que, pela primeira vez em 40 anos, estão também em greve há já uma semana. E são os trabalhadores dos hotéis de luxo dos EUA e do Canadá, provavelmente o caso mais surpreendente, que, em apenas dois anos, transformaram um dos sectores menos sindicalizados num autêntico rastilho de ideias revolucionárias.
«A minha família de New Bedford contava-me histórias sobre a greve de 1928, liderada por operários portugueses», confidenciou-me William Lewis, recepcionista do hotel Sheraton Stamford, no Connecticut. «Há poucos anos, um sindicato existir aqui no hotel era impensável. Hoje já discutimos essa táctica», explicou-me o activista do sindicato Unite Here.
Depois da vitória da greve na cadeia Marriott, na Califórnia, há um ano, foram muitos os trabalhadores de outros hotéis a exigir liberdade sindical. «Começou com o Hyatt Greenwich, depois, em 2017, foi o Hilton… Foi uma batalha árdua até o patrão nos reconhecer oficialmente, o que aconteceu em Dezembro, mas a resposta foi dura: despediram 12 trabalhadores de quatro departamentos. Dizem que estão a perder dinheiro. Mas porque temos de ser nós a pagar a crise deles?», questionou-se o jovem quadro sindical.
Esta semana houve uma manifestação à porta do hotel. «Estamos em luta pela reintegração dos colegas que foram despedidos, pelo aumento dos salários e para exigir cuidados de saúde que possamos pagar. Uma parte importante do nosso rendimento é gasto em seguros de saúde e, mesmo assim, quando vamos ao médico ainda saímos de lá com facturas astronómicas. Alguns colegas têm dívidas de milhares de dólares em despesas médicas», explicou-me.
«Os nossos plenários sindicais são traduzidos em simultâneo para espanhol, diferentes crioulos e inglês. São verdadeiras escolas. No ano passado, a ideia de fazer uma greve no Dia Internacional da Mulher partiu de uma trabalhadora das limpezas. E, pela primeira vez em muitos anos, a cidade assistiu a um 1.º de Maio a que se juntaram trabalhadores do [hipermercado] Stop and Shop, dos hotéis, dos bombeiros, das comunicações, carpinteiros, etc… Os trabalhadores dos EUA estão a ganhar mais confiança para lutar porque, sendo mais fácil conseguir trabalho, a ideia do desemprego já não nos assusta tanto», explicou Lewis.
Da mesma ideia comunga Shakti Ahuja, empregada do Hyatt Regency, em Vancouver, no Canadá. Depois de três semanas em greve para exigir melhores salários, esta trabalhadora das limpezas explicou-me o que conquistou: «Nunca tinha feito greve. Para mim, era só entrar, fazer bem o meu trabalho e voltar para a minha família. Foram eles que nos obrigaram a lutar. Aqui cada mulher faz o trabalho de duas e quando nos magoamos, o que está sempre a acontecer, não há baixas pagas, não há nada. E com aqueles salários e as rendas sempre a subir, já não dava para sobreviver. Com o novo contrato, conseguimos um aumento salarial de 25 por cento e mais segurança no trabalho.
Ainda falta muita coisa, a começar pela luta. No Georgia [outro hotel da cidade], eles ainda não cederam. E eu continuo a ir lá para os piquetes, para lhes dizer que estou do lado deles. Levo comida tradicional… uma ou duas vezes por semana. Vou cansada, mas estou na luta».